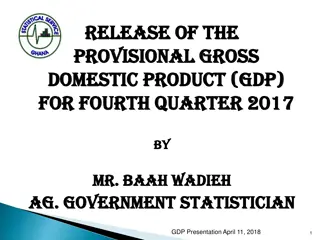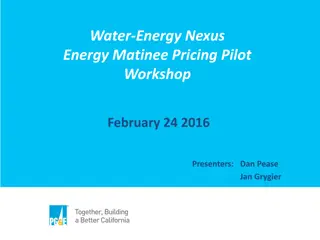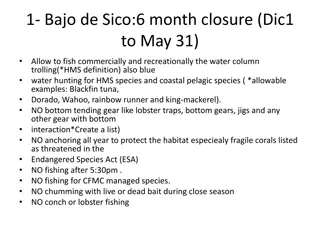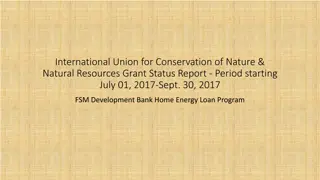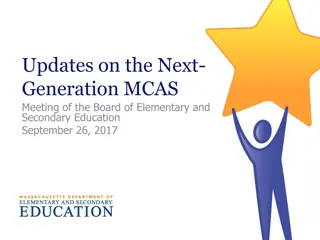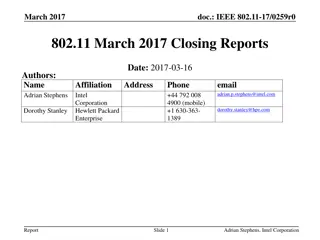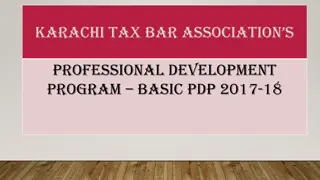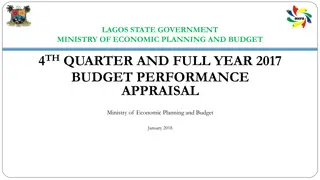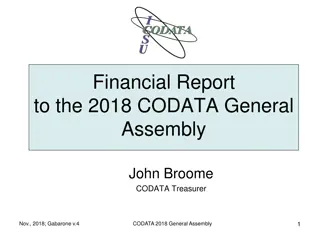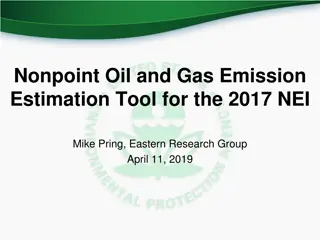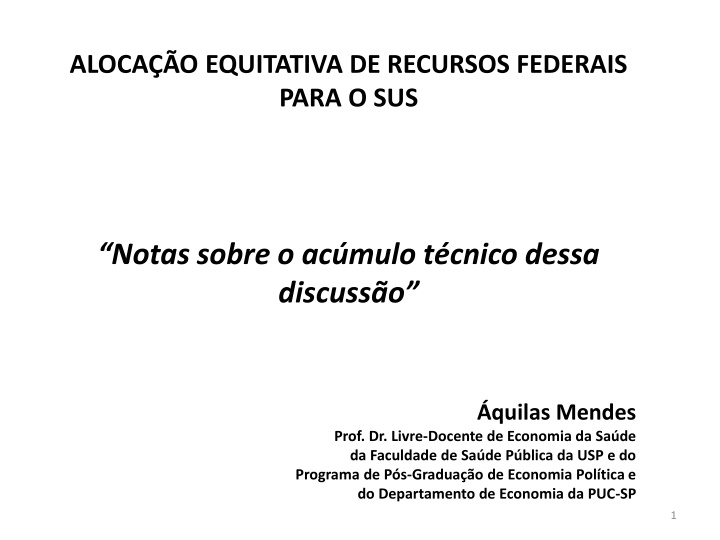
Equitable Allocation of Federal Resources for SUS
Explore the challenges and historical evolution of resource allocation within the Brazilian healthcare system, focusing on the equitable distribution of federal funds for SUS. Learn about past initiatives, policy changes, and ongoing efforts to address the issue.
Download Presentation
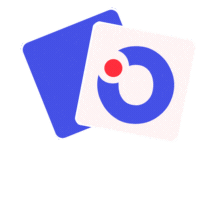
Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
ALOCAO EQUITATIVA DE RECURSOS FEDERAIS PARA O SUS Notas sobre o ac mulo t cnico dessa discuss o quilas Mendes Prof. Dr. Livre-Docente de Economia da Sa de da Faculdade de Sa de P blica da USP e do Programa de P s-Gradua o de Economia Pol tica e do Departamento de Economia da PUC-SP 1
Introduo Desde a cria o do SUS h esfor os t cnicos e pol ticos no sentido de rever as bases de financiamento da pol tica de sa de no interior do sistema, de modo a torn -las mais equ nimes. Tanto a Lei 8.080/90 (art.35) e a Lei 8.142/90 (art.2 e 3) disp em sobre a partilha dos recursos da Uni o para Estados e Munic pios. Prof. quilas Mendes
Introduo Ainda que os crit rios estabelecidos nessas Leis possam fazer refer ncia ideia de necessidades em sa de, n o foram pass veis de aplica o ao longo da implementa o do SUS. (nota: art. 35 com problemas de aplica o Piola e Sol n, 1991). Prof. quilas Mendes
Introduo Na maioria das vezes, as decis es pol ticas s o influenciadas por fatores ligados oferta, como a busca de maior efici ncia na utiliza o dos recursos destinados ao trato da sa de j instalados, assim como para a sua manuten o. Algumas iniciativas de rompimento com a l gica de aloca o de recursos centrada na oferta de servi os, no aporte tecnol gico ou com base em s rie hist rica de gasto foram formuladas: - NOB 93, repasse global e autom tico estimulando o planejamento local - NOB 96, institui o PAB (fixo) tamanho da pop. e valor per capita nacional. Prof. quilas Mendes
Introduo A despeito dessas a es, prevaleceu o comportamento hist rico da aloca o de recursos pautada na produ o e n o nas necessidades, mantendo-se distribui es n o equitativas dos recursos da sa de no Brasil (Marques e Mendes, 2003). Crescimento das famosas caixinhas incentivos financeiros carimbados segundo a pol tica definida pelo MS, desconsiderando a pol tica local e seu planejamento. Prof. quilas Mendes
Introduo tentado uma revers o desse processo com o PACTO PELA SA DE (2004); Pouco se avan a em termos de aloca o equitativa. Criam-se os Blocos de Financiamento (PORTARIA MS 204/2007) defini o por rea administrativa do MS e n vel de aten o sa de. Prof. quilas Mendes
Introduo A partir da segunda metade dos anos 1990 e primeira dos anos 2000, v rios estudos t cnicos foram desenvolvidos equitativa de recursos: Porto et al, 2001, 2003 (artigo), 2005 e 2006 (BRASIL, Minist rio da Sa de. Secretaria Executiva. Metodologia de Aloca o Equitativa de Recursos. Bras lia: Minist rio da Sa de, 2006. Coordenadora geral do estudo: Silvia Porto). Porto e Mendes, 2006; Mendes et al, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (artigo), 2012/2013/2014/2015/2016. priorizando a aloca o Prof. quilas Mendes
Introduo O estudo de Porto et al (2003) influenciou diversas experi ncias estaduais de aloca o de recursos para os munic pios, apoiadas pelo Projeto Economia da Sa de Fortalecendo Sistemas de Sa de para Reduzir Desigualdades (PES) , atividade elaborada e implementada pelo MS, pelo Instituto de Pesquisa Econ mica Aplicada (Ipea), com suporte financeiro e t cnico do Department for International Development (DFID). Dentre os Estados que desenvolveram estudos apoiados por esse Projeto, destacam-se: Cear , Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais (Abres, Fortaleza, 2006) Apenas no Estado de Minas Gerais, o estudo de metodologia equitativa foi aplicado no interior do sistema de sa de. Baseado em metodologia proposta por Porto e colaboradores (2003), Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Sa de, construiu um indicador de necessidade de cuidados com a sa de para a aloca o de recursos provenientes do Piso de Aten o B sica (PAB). Prof. quilas Mendes
Introduo Aloca o Equitativa de Recursos: O conceito de equidade bastante complexo, pois uma distribui o geogr fica equitativa n o necessariamente permite alcan ar o bom-senso em termos de necessidades individuais. Assim, para se alcan ar algum resultado v lido, deve-se estabelecer um conceito estreito do que seja igualdade na aloca o de recursos para financiamento das a es de sa de. Prof. quilas Mendes
Introduo para necessidades iguais sejam distribu dos iguais volumes de recursos financeiros (Giraldes, 1987). Assume-se que o financiamento federal deva corrigir as desigualdades existentes entre as diferentes capacidades de autofinanciamento dos Estados e munic pios e das suas distintas possibilidades de Prof. quilas Mendes
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). Propor uma metodologia de rateio dos recursos financeiros federais para estados com base na LC 141/2012, art. 17. Prof. quilas Mendes
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS Art. 17. O rateio dos recursos da Uni o vinculados a a es e servi os p blicos de sa de e repassados na forma do caput dos arts. 18 e 22 aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munic pios observar as necessidades de sa de da popula o, as dimens es epidemiol gica, demogr fica, espacial e de capacidade de oferta de a es e de servi os de sa de e, ainda, o disposto no art. 35 da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, de forma a atender os objetivos do inciso II do 3o do art. 198 da Constitui o Federal. socioecon mica, Prof. quilas Mendes 12
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS Prof. quilas Mendes 13
OS CRITRIOS DE RATEIO DA LC 141 FORAM AGRUPADOS EM TRES EIXOS: 1. necessidades de sa de medidas pela situa o socioecon mico, demogr fica, epidemiol gica; geogr fica e 2. capacidade de oferta e produ o de a es e servi os de sa de; e 3. desempenho t cnico e financeiro anual das a es e servi os de sa de. Prof. quilas Mendes 14
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). A partir da Lei 141/2012, desapareceram alguns elementos que norteavam o rateio de recursos conforme o artigo 35 da Lei 8080/90. S o eles: - fica revogado o 1 do art. 35: desconsidera-se que o valor total do repasse da Uni o para os demais entes federativos, devessem ser 50% desse total e realizados de acordo com o crit rio per capita. - fica revogado o artigo3 da lei 8.142/90: deixa-se de existir a obrigatoriedade de que 70% dos recursos da Uni o devessem ser destinados aos Munic pios. - fica revogado o 2 do art. 77 do ADCT da CF (introduzido pela Emenda Constitucional 29/2000): termina-se com o estabelecido de que 15%, dos recursos da Uni o, fossem aplicados nos Munic pios, segundo o crit rio populacional, em a es e servi os b sicos de sa de. Em suma, a partir da Lei 141, n o h mais percentuais dos recursos das transfer ncias da Uni o com destina o espec fica (70% para os Munic pios) e nem os 15% do total dos recursos da Uni o destinados para a aten o b sica. Prof. quilas Mendes 15
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). A Lei 141 deu continuidade ao que j se vem realizando: as transfer ncias da Uni o e dos Estados aos munic pios devem ser realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Sa de, de forma regular e autom tica, sob crit rios aprovados pelos Conselhos de Sa de, conforme os artigos 18 e 20, descritos a seguir. Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional de Sa de, destinados a despesas com as a es e servi os p blicos de sa de, de custeio e capital, a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Munic pios ser o transferidos diretamente aos respectivos fundos de sa de, de forma regular e autom tica, dispensada a celebra o de conv nio ou outros instrumentos jur dicos. Art. 20. As transfer ncias dos Estados para os Munic pios destinadas a financiar a es e servi os p blicos de sa de ser o realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Sa de, de forma regular e autom tica, em conformidade com os crit rios de transfer ncia aprovados pelo respectivo Conselho de Sa de. Prof. quilas Mendes 16
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). O artigo 17, o par grafo 3 , fica estabelecido a ideia de responsabiliza o entre os gestores do SUS. Isso porque o poder executivo, ao repassar os recursos, deve faz -lo com base no Plano Nacional de Sa de, conforme o termo de compromisso de gest o firmado entre os tr s entes. Prof. quilas Mendes 17
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). Para sintetizar nossas ideias expostas, deve-se admitir que as transfer ncias de recursos da Uni o para estados e munic pios devem abranger: - crit rios legais (os da LC 141 e lei 8080); - metodologia de c lculo (definida pela CIT, aprovada no CNS); - compromissos de gest o nos termos do decreto 7.508, assegurando os compromissos interfederativos , conforme seus objetivos e metas em acordo aos planos de sa de; e - transfer ncia de forma direta, regular e autom tica (fundo a fundo). Prof. quilas Mendes 18
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). - Merece men o final que a Lei 141/2012 e seu Decreto Regulamentador refor aram as formas de acompanhamento, fiscaliza o, controle e auditoria dos recursos do SUS. - Para citar um exemplo, ficou estabelecida a compatibilidade entre a sa de e os instrumentos de planejamento or ament rio, o PPA, a LDO e a LOA. A partir de ent o, por exemplo, os munic pios poder o ter ao seu lado um atributo legal para o grande embate entre a secretaria de sa de e a de planejamento / finan as, que h anos v m se tornando mais dif cil. Prof. quilas Mendes 19
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). - Qualquer metodologia de rateio de recursos que se pretenda justa deve contribuir para promover a separa o entre crit rios de aloca o (fontes dos recursos) e a forma de utiliza o dos recursos (uso dos recursos). Trata-se de valorizar a utiliza o global dos recursos de acordo com o planejamento local, visando ao cumprimento de metas e alcance de resultados. - O uso dos recursos deve ser objeto de compromissos a serem firmados entre o ente repassador e o ente recebedor, de acordo com as necessidades de sa de da popula o ajustadas s diretrizes nacionais aprovadas no Conselho Nacional de Sa de. Essa determina o legal, baseada na lei complementar 141 e deve ser interpretada levando em conta o disposto no decreto 7.508, de 2011, que se refere tamb m reparti o das responsabilidades federativas sanit rias as quais devem ser financiadas de forma tripartite e regionalizadas. Prof. quilas Mendes 20
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). - Ao se tratar de recursos a serem alocados com base em crit rios equitativos, utilizando-se o mesmo montante de recursos atualmente distribu do pelo MS a estados e munic pios, deve-se considerar que o resultado final dessa distribui o, feita com base em equidade, certamente levar a que alguns desses entes venham a perder recursos. - Por m, reconhecendo-se que n o ser poss vel haver perda de recursos para nenhum ente tendo em vista o sub-financiamento da sa de no Pa s obrigat rio que a metodologia de c lculo que venha a ser proposta trabalhe com aporte de recursos novos ou que, no caso de perda de recursos, ela seja considerada para compensa es futuras de repasse de novos recursos; e, - no caso de acr scimo de recursos, ela dever ser considerada nos futuros aportes. Prof. quilas Mendes 21
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). Pressupostos: As experi ncias internacionais fazem uma distin o entre recursos para operar o sistema de sa de e recursos de investimento. Em todos eles, as f rmulas para distribui o de recursos envolvem somente os de custeio do sistema. A parte referente aos de investimento realizada por meio de um planejamento estrat gico Planos de Investimentos Prof. quilas Mendes 22
CRITRIOS E METODOLOGIA DE CLCULO PARA RATEIO DOS RECURSOS DA UNI O PARA ESTADOS E MUNIC PIOS - (Arts. 17 e 19 da LC 141, de 2012). Pressupostos: As regras para a aloca o devem ser simples e determinadas ex- ante. inclus o de crit rios que possam ser aferidos a partir de dados existentes nos bancos de dados oficiais e nos sistemas de informa o do SUS. A equidade deve ser seguida como princ pio de aplica o para a nova f rmula. A equidade horizontal igual aten o a igual necessidade e a equidade vertical para maior necessidade de aten o, maior a aloca o de recursos. Prof. quilas Mendes 23
A alocao deve ter por base as necessidades de sade da populao e a equidade, as quais devem fundar-se nas caracter sticas epidemiol gicas, demogr ficas, geogr ficas, sociais e econ micas. Dentre as experi ncias internacionais de aloca o equitativa de recursos, a da Esc cia (pela sua maneira simples e direta de ser realizada) foi levada em conta. Deve-se realizar um ajuste inicial em rela o popula o por idade e sexo (crit rio internacional). A base de refer ncia deve se orientar primeiramente por um ndice de Popula o Ponderada. A aplica o da nova f rmula ser realizada para todos os recursos federais de custeio. As transfer ncias de recursos federal devem ser feitas com base em per capita. Prof. quilas Mendes 24
A alocao deve ter por base as necessidades de sade da populao e a equidade, as quais devem fundar-se nas caracter sticas epidemiol gicas, demogr ficas, geogr ficas, sociais e econ micas. Prof. quilas Mendes 25
PRIMEIRO EIXO ndice de Necessidades de Sa de: estimativa de necessidades de sa de que permita dimensionar desigualdades em rela o s condi es: Demogr ficas; Socioecon micas: Geogr ficas; e Epidemiol gicas. Prof. quilas Mendes 26
POPULAO PONDERADA Conceito A popula o deve ser ponderada pelo fator idade e sexo (como um primeiro ajuste) e depois pelos crit rios socioecon mico, geogr fico e epidemiol gico. Prof. quilas Mendes 27
2. Etapa Prof. quilas Mendes
Variveis no clculo do ndice de necessidades em sade segundo dimenses especficas.
- Permaneceram, para o c lculo do ndice de necessidades em sa de, 12 das 22 vari veis inicialmente propostas: Vari veis finais usadas no c lculo do ndice de necessidades em sa de segundo dimens es espec ficas. 2 Etapa Crit rios n Vari veis/Indicadores Epidemiol gico 1 Tx de Mortalidade Infantil (menor de 1 ano) 2 Tx de Mortalidade de 65 anos e mais 4 Tx de Fecundidade (crescimento populacional) 5 Tx de Expectativa de Vida ao Nascer 7 % de domic lios com rede geral de gua 8 Taxa de analfabetismo 9 Taxa de emprego formal 11 % popula o abaixo da linha de extrema pobreza 12 Renda m dia domiciliar per capita 13 taxa de atividade de popula o com 18 ou mais anos 17 porcentagem de pessoas em domic lios com abastecimento de gua e esgotamento sanit rio inadequados 19 densidade demogr fica Socioecon mico C lculo para o ndice de necessidades em sa de Geogr fico Prof. quilas Mendes
Passo 3 Clculo do ndice de necessidade de sade, pelas dimenses socioecon mica, geogr fica e epidemiol gica Scores de Necessidade de Sa de Inicial e Ajustados por Condi es Socioecon mica, Geogr fica e Epidemiol gica, por Unidade da Federa o - 2010 SCORE_NS_SEGESCORE_NS_SEGE_ Estados AJUST 1,7570 1,8674 1,5299 1,6861 1,6923 1,7244 1,0000 1,2844 1,3271 2,0000 1,4097 1,3604 1,3371 1,7733 1,7657 1,2537 1,6727 1,8857 1,2120 1,6372 1,2243 1,4962 1,6048 1,1510 1,1633 1,6570 1,6116 Acre Alagoas Amap Amazonas Bahia Cear Distrito Federal Esp rito Santo Goi s Maranh o Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Par Para ba Paran Pernambuco Piau Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rond nia Roraima Santa Catarina S o Paulo Sergipe Tocantins Brasil 0,5435 0,7984 0,0190 0,3797 0,3941 0,4682 -1,2047 -0,5480 -0,4493 1,1047 -0,2584 -0,3725 -0,4262 0,5811 0,5637 -0,6187 0,3489 0,8407 -0,7150 0,2668 -0,6866 -0,0587 0,1920 -0,8559 -0,8275 0,3126 0,2078 0,0000 Prof. quilas Mendes
Passo 3 Clculo do ndice de necessidade de sade, pelas dimens es socioecon mica, geogr fica e epidemiol gica Mapa da Distribui o do ndice de Necessidade de Sa de (INS-SEGE) entre as Unidades Federativas do Brasil Prof. quilas Mendes
EIXO 3: Desempenho Tcnico e Financeiro A decis o sobre que referencial usar para avaliar o desempenho t cnico e financeiro anual das a es e servi os de sa de dos Estados e Distrito Federal acabou por recair nos resultados apresentados pelas metas presentes no SISPACTO ( 2 art. 4 Resolu o n 5, de 2013). Prof. quilas Mendes
EIXO 3: Desempenho Tcnico e Financeiro O Sistema de Pactua o de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (Sispacto) permite o registro de metas pactuadas por Munic pios, regi es de sa de, Estados e Distrito Federal, conforme fluxo previsto na Resolu o CIT n 5, de 19 de junho de 2013, que disp e sobre as regras do processo de pactua o de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015, com o objetivo de fortalecer o planejamento no SUS e a implementa o do COAP (COMISS O INTERGESTORES TRIPARTITE, 2013). Todas as informa es pertinentes ao processo de pactua o de diretrizes, objetivos, metas e indicadores est o dispon veis no Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013- 2015 (BRASIL, 2015), que pode ser acessado na p gina inicial do Sispacto por meio do seguinte link: <www.aplicacao.saude.gov.br/sispacto>. Prof. quilas Mendes
EIXO 3: Desempenho Tcnico e Financeiro O Tabnet dos indicadores pactuados pode ser acessado atrav s do seguinte caminho: datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201 http://www2. Para o per odo 2013-2015, a CIT definiu um conjunto de 67 indicadores (ver anexo) a serem pactuados pelos entes federados, conforme fluxos previstos pela Resolu o CIT n 5, de 19 de junho de 2013, composto por tipos: - 16 Indicadores universais Expressam o acesso e a qualidade da organiza o em redes, al m de considerar os indicadores epidemiol gicos de abrang ncia nacional e desempenho do sistema (IDSUS), sendo de pactua o comum e obrigat ria nacionalmente; - Indicadores espec ficos Expressam as caracter sticas epidemiol gicas locais e de organiza o do sistema e de desempenho do sistema (IDSUS), sendo de pactua o obrigat ria quando forem observadas as especificidades no territ rio. Prof. quilas Mendes